 Representações de cenas familiares envolvendo os faraós são raras. Os momentos da vida íntima da família real surgem apenas na arte da época amarniana, ou seja, durante o reinado de Akhenaton (c. 1353 a 1335 a.C.), e ocupam um lugar inexistente em épocas anteriores. Nesse período os relevos nos mostram os doces e ternos relaciona-mentos entre o rei e a rainha, das princesas entre si e com seus pais. Tais temas são repetidos com variações sempre novas e surpreendentes. Acima vemos um desses instantes de ternura entre Nefertiti e uma de suas filhas. Por outro lado, a idéia de representar os corpos de frente é uma inovação revolucionária na arte do relevo.
Representações de cenas familiares envolvendo os faraós são raras. Os momentos da vida íntima da família real surgem apenas na arte da época amarniana, ou seja, durante o reinado de Akhenaton (c. 1353 a 1335 a.C.), e ocupam um lugar inexistente em épocas anteriores. Nesse período os relevos nos mostram os doces e ternos relaciona-mentos entre o rei e a rainha, das princesas entre si e com seus pais. Tais temas são repetidos com variações sempre novas e surpreendentes. Acima vemos um desses instantes de ternura entre Nefertiti e uma de suas filhas. Por outro lado, a idéia de representar os corpos de frente é uma inovação revolucionária na arte do relevo.
Embora a monogamia fosse a regra fundamental no antigo Egito, a política de matrimônio seguida pela casa real, principalmente no Império Novo (c. 1550 a 1070), favorecia a poligamia, com o objetivo de preservar o poder. Em função desse mesmo propósito, geralmente não se concedia às princesas estrangeiras a condição de esposas principais. Quando, por exemplo, Amenófis III (c. 1391 a 1353 a.C.), por razões políticas, casou-se com uma princesa mitaniana, os dizeres comemorativos inscritos em um escaravelho afirmavam:
Ano 10 sob Amenófis e Teye, Grande Esposa Real, cujo pai se chama Yuya e cuja mãe se chama Tuya. Maravilhas trazidas para Sua Majestade: Gilu-Khepa, filha de Shuttarna, príncipe do Mitanni, e a maior parte do seu harém, 317 mulheres.
Ou seja, mesmo proclamando-se esse grande matrimônio de Estado, reafirmava-se a prioridade de Teye, embora ela fosse uma filha de plebeus. A chegada de uma princesa estrangeira não prejudicava a posição da primeira esposa. Já o matrimônio consagüíneo está frequentemente documentado entre a população em geral, mas raramente entre irmãos, ainda que isso pudesse ocorrer na família real, nesse caso com o mesmo objetivo da preservação do poder. Foi o que aconteceu no enlace de Tutankhamon (c. 1333 a 1323 a.C.) com sua meia-irmã, Ankhesenamum, se concordarmos com os egiptólogos que afirmam que aquele faraó era filho de Akhenaton com uma de suas esposas secundárias, chamada Kiya.
 Os filhos dos faraós, desde a I dinastia (c. 2920 a 2770 a.C.), agiam como se fossem funcionários da corte a serviço de seus pais. Por exemplo, na paleta de Narmer (detalhe ao lado), o personagem que caminha diante do rei, envolto em uma pele de animal, e que podemos interpretar como um precursor dos futuros vizires, supõe-se que seja um filho do rei. Sem dúvida, também era o filho mais velho do faraó quem, originalmente, exercia a função de sacerdote Sem. O ocupante desse cargo desempenhava um papel essencial tanto no ritual da festa Sed, realizando a cerimônia de abertura da boca, quanto nos rituais de sepultamento.
Os filhos dos faraós, desde a I dinastia (c. 2920 a 2770 a.C.), agiam como se fossem funcionários da corte a serviço de seus pais. Por exemplo, na paleta de Narmer (detalhe ao lado), o personagem que caminha diante do rei, envolto em uma pele de animal, e que podemos interpretar como um precursor dos futuros vizires, supõe-se que seja um filho do rei. Sem dúvida, também era o filho mais velho do faraó quem, originalmente, exercia a função de sacerdote Sem. O ocupante desse cargo desempenhava um papel essencial tanto no ritual da festa Sed, realizando a cerimônia de abertura da boca, quanto nos rituais de sepultamento.
Também eram os filhos do rei que, inicialmente, cuidavam da administração das províncias, às quais os gregos chamaram de nomos. Todos os jovens príncipes recebiam educação esmerada. As aulas eram ministradas na escola da corte, anexa ao harém real, e dirigidas por um personagem chamado de Preceptor dos Filhos Reais. O título de Filho do Rei, porém, raramente era conferido ao homem que não fosse já de fato rei ou, pelo menos, herdeiro presuntivo do trono. Os filhos de funcionários da corte e dos nobres provinciais, principalmente dos nomarcas, também frequentavam essas aulas. Com o crescimento do império, entretanto, era natural que as tarefas fossem se multiplicando e se especializando e surgiu a necessidade da criação de novos cargos e o poder passou a ser delegado a pessoas sem laços familiares com o faraó.
As meninas nascidas da esposa principal recebiam o título de Filhas do Rei, para distinguí-las daquelas nascidas das demais esposas. Outros títulos importantes que podiam ser atribuídos a uma mulher, os quais permaneceriam, então, com suas detentoras pelo resto de suas vidas, eram o de Grande Esposa Real, Mãe do Rei, Esposa do Rei e Irmã do Rei.
Tanto a mãe quanto a esposa principal do soberano, a Grande Esposa Real, ocupavam um lugar de particular importância no seio da família do faraó. Desde os primeiros tempos que, entre os títulos colocados acima do número de anos do reinado em curso, atrás do nome do rei em questão, se faz menção ao nome de sua mãe. Somente as mães dos faraós podiam ostentar o título de Filha do Deus e isso revela seu papel excepcional e indica que todas as ligações genealógicas pertenciam ao plano mítico e religioso do dogma real. Na VI dinastia, Pepi II (c. 2246 a 2152 a.C.) herdou o trono enquanto ainda era criança e, sem problemas, sua mãe atuou como regente e aparece com grande importância nas primeiras inscrições daquele rei. Qualquer mulher, tivesse ela origem real ou não, fosse ela casada com um rei ou não, elevada à condição de mãe do faraó pelo coroamento do seu filho, passava a se inserir, pelo fato em si, em um plano mítico que respaldava a idéia do nascimento divino do rei.
Mas sem dúvida a XVIII dinastia (c. 1550 a 1307 a.C.) sobrepujou as épocas anteriores na admissão e reconhecimento da influência da mulher. Amósis-Nofretari, por exemplo, esposa e irmã de Amósis (c. 1550 a 1525 a.C.), primeiro faraó daquela dinastia, tornou-se uma rainha muito poderosa. Ela foi a primeira na história do Egito a receber o título de Esposa do Deus. Nessa época a mãe do rei passou a ocupar, de forma vitalícia, posição de precedência sobre a rainha, esposa do seu filho. Decretos reais foram especialmente emitidos instituindo cultos para veneração de algumas rainhas-mães, as quais podiam em certos casos exercer a regência em nome de seu filho menor. Hatshepsut (c. 1473 a 1458 a.C.) tomou para si títulos masculinos e se fez "rei".
 Algumas rainhas receberam de seus esposos tratamento diferenciado na arte. Foi o caso, por exemplo, de Teye, esposa de Amenófis III, e de Nefertiti, mulher de Akhenaton (c. 1353 a 1335 a.C.). A primeira surge representada nas estátuas em tamanho colossal, sentada ao lado do esposo, e não presa às pernas do faraó em tamanho menor, como se fosse um indivíduo relativamente insignificante, como era habitual. Seu esposo tinha prazer em declarar que queria honrá-la construindo-lhe um lago no qual pudessem navegar na barca real. Na foto ao lado uma das estátuas que a representa, encontrada pelos arqueólogos em 2006.
Algumas rainhas receberam de seus esposos tratamento diferenciado na arte. Foi o caso, por exemplo, de Teye, esposa de Amenófis III, e de Nefertiti, mulher de Akhenaton (c. 1353 a 1335 a.C.). A primeira surge representada nas estátuas em tamanho colossal, sentada ao lado do esposo, e não presa às pernas do faraó em tamanho menor, como se fosse um indivíduo relativamente insignificante, como era habitual. Seu esposo tinha prazer em declarar que queria honrá-la construindo-lhe um lago no qual pudessem navegar na barca real. Na foto ao lado uma das estátuas que a representa, encontrada pelos arqueólogos em 2006.
No que diz respeito à rainha, a língua egípcia não tem um termo específico para designá-la, o que mostra que sua função e seu lugar eram determinados pelo rei. Os próprios títulos que usava como, por exemplo, Aquela que Vê Hórus e Seth ou Aquela que Segue Hórus, já indicam isso. A exemplo de seu esposo, era sempre uma figura também imponente: vestida de linho fino, calçada com couro, ornada de jóias, com uma cabeleira composta de centenas de minúsculas tranças que lhe chegavam aos ombros, impunha admiração e respeito. Um de seus títulos mais antigos, o de Mãe dos Filhos Reais denuncia sua principal missão, ou seja, a de assegurar a continuidade dinástica. Outro título do Império Antigo (c. 2575 a 2134 a.C.) que a denomina de Portadora de Seth ou de Portadora de Hórus também mostra sua função de garantidora da sucessão real.
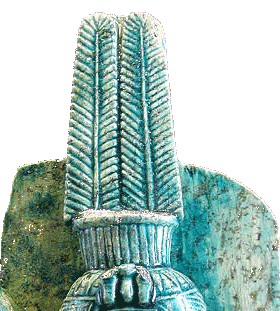 Uma insígnia bem antiga usada pela rainha era o adorno de cabeça com o abutre. As asas e o corpo da representação artística da ave eram estendidos sobre uma espécie de barrete justo, enquanto que a cabeça do animal se projetava para a frente. Um substituto do abutre era a cobra naja, conhecida como uraeus. Abutre ou naja protegiam a rainha dos perigos. Essas eram as marcas mais características da soberania do rei e, por associação, também da soberania da sua esposa. Outro símbolo da realeza usado por mulheres a partir da XIII dinastia (c. 1783 até após 1640 a.C.) era um par de plumas de falcão montadas em um suporte circular, como vemos acima. Adornos de cabeça semelhantes eram usados pelos deuses Min e Amon e pela deusa Hátor. Além disso, a exemplo das divindades e reis, as mulheres reais são representadas segurando símbolos de propriedade como o ankh, o sistro e o colar menat.
Uma insígnia bem antiga usada pela rainha era o adorno de cabeça com o abutre. As asas e o corpo da representação artística da ave eram estendidos sobre uma espécie de barrete justo, enquanto que a cabeça do animal se projetava para a frente. Um substituto do abutre era a cobra naja, conhecida como uraeus. Abutre ou naja protegiam a rainha dos perigos. Essas eram as marcas mais características da soberania do rei e, por associação, também da soberania da sua esposa. Outro símbolo da realeza usado por mulheres a partir da XIII dinastia (c. 1783 até após 1640 a.C.) era um par de plumas de falcão montadas em um suporte circular, como vemos acima. Adornos de cabeça semelhantes eram usados pelos deuses Min e Amon e pela deusa Hátor. Além disso, a exemplo das divindades e reis, as mulheres reais são representadas segurando símbolos de propriedade como o ankh, o sistro e o colar menat.
A primeira esposa do faraó era consorte de um deus a quem se havia concebido o privilégio excepcional do contato físico com ele — escreve o egiptólogo John A. Wilson. Se ademais era filha de um faraó anterior, havia sido engendrada por um corpo divino e devia ter em si algo da natureza divina. Temos aqui alguns dos elementos que contribuíram para a forte tendência matriarcal na teoria egípcia da sucessão real: a legitimidade para governar estava condicionada pela descendência real da mãe tanto como pela do pai. O faraó podia ter muitas mulheres de diversas origens, mas a linha mais pura para continuar a semente do deus-Sol, Rá, tinha que ser a da mãe que pertencesse diretamente à família real. Essa foi a causa pela qual alguns faraós se casaram com uma irmã, a fim de assegurar a estirpe mais divina possível e com o objetivo secundário de reduzir o número dos pretendentes ao trono.
Entretanto, outros estudiosos acreditam que as forças políticas possam ter influenciado mais do que os laços familiares na sucessão faraônica. Mas pode-se duvidar — afirma o professor de egiptologia da Universidade de Constança, Wilfried Seipel —, que a "pureza do sangue", ou seja, a origem genealógica direta da rainha tenha desempenhado um papel para legitimar as reivindicações ao poder do seu esposo. Com efeito, não se insiste jamais sobre o fato de que o rei nasceu de uma esposa principal, e o casamento consangüíneo entre irmãos e irmãs nascidos do mesmo pai e da mesma mãe não é atestado explicitamente antes da época ptolomaica (304 a 30 a.C.). A concepção frequentemente expressa segundo a qual, na época de uma mudança de dinastia, esposava-se uma filha da antiga dinastia para assegurar a legitimidade da nova, pode assim ser recusada. Na maior parte dos casos, são as forças políticas presentes que devemos levar em consideração para explicar o triunfo das reivindicações ao trono. (...) Desde o Império Médio (c. 2040 a 1640 a.C.) que o título de "grande esposa real" colocou expressamente a rainha em evidência com relação às numerosas outras esposas secundárias do harém real.
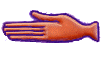 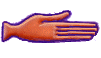
|

