 Do ponto de vista oficial nos ensina o egiptólogo John Baines , a sociedade era constituída pelos deuses, pelo faraó e pela humanidade. Mas a humanidade está ausente da maioria dos registros pictóricos oficiais, que representam a história e a religião como a interação entre os deuses e o faraó. Essa frase nos dá uma boa idéia de como deveria se estruturar na cabeça de um egípcio antigo o seu relacionamento na vida em grupo e a importância que dava ao rei. A verdade é que existia uma série de regras que ditavam como determinadas figuras podiam ou não ser representadas. Nos períodos mais antigos não era permitido, por exemplo, que um indivíduo particular e um deus fossem representados juntos e também não se permitia que as pessoas comuns fossem representadas no interior dos templos. Além disso, Baines ainda nos conta que o rei atua como mediador em certos casos o único entre o deus e os homens. Representa os homens junto dos deuses e os deuses junto dos homens, sendo também o exemplar vivo do deus criador na Terra e reinterpreta o papel deste ao estabelecer a ordem no caos. Na figura acima vemos Ramsés III (c. 1194 a 1163 a.C.) abraçando a deusa Ísis em condição de igualdade com ela, como se um deus também fosse.
Do ponto de vista oficial nos ensina o egiptólogo John Baines , a sociedade era constituída pelos deuses, pelo faraó e pela humanidade. Mas a humanidade está ausente da maioria dos registros pictóricos oficiais, que representam a história e a religião como a interação entre os deuses e o faraó. Essa frase nos dá uma boa idéia de como deveria se estruturar na cabeça de um egípcio antigo o seu relacionamento na vida em grupo e a importância que dava ao rei. A verdade é que existia uma série de regras que ditavam como determinadas figuras podiam ou não ser representadas. Nos períodos mais antigos não era permitido, por exemplo, que um indivíduo particular e um deus fossem representados juntos e também não se permitia que as pessoas comuns fossem representadas no interior dos templos. Além disso, Baines ainda nos conta que o rei atua como mediador em certos casos o único entre o deus e os homens. Representa os homens junto dos deuses e os deuses junto dos homens, sendo também o exemplar vivo do deus criador na Terra e reinterpreta o papel deste ao estabelecer a ordem no caos. Na figura acima vemos Ramsés III (c. 1194 a 1163 a.C.) abraçando a deusa Ísis em condição de igualdade com ela, como se um deus também fosse.
Competia aos faraós zelarem pelo bem-estar do povo e, ao longo da história egípcia, eles assim o fizeram e tomaram para si as preocupações da população. Uma das principais tarefas que cabia ao faraó para proteger a nação, numa terra sem chuva, era a de manter o controle sobre o Nilo. Então, anualmente, ele realizava cerimônias destinadas a garantir que as águas do rio subissem com regularidade infalível e fossem usadas adequadamente. Portanto, havia uma íntima conexão entre o faraó e o Nilo, do qual dependia a prosperidade do país. Até Akhenaton (c. 1353 a 1335 a.C.), o adorador monoteísta do Sol, era saudado como um Nilo que flui diariamente dando vida ao Egito.
Para reforçar seu poderio junto às massas, os reis procuravam identificar-se com os deuses. Às vezes se autodivinizaram e, nesses casos, se faziam representar no seu aspecto normal apresentando oferendas aos seus alter egos divinos, como o fizeram, por exemplo, Amenófis III (c. 1391 a 1353 a.C.) e Ramsés II (c. 1290 a 1224 a.C.). Por outro lado, também ocorria de um faraó ser divinizado após a morte, mas o fato nesse caso era devido mais aos feitos do rei do que ao entendimento de que ele fosse um deus verdadeiro. Em síntese, o faraó, em virtude de seu cargo, era encarado como um ser à parte e seu papel como deus ou como homem era diferente de acordo com o contexto em que atuasse.
Em verdade, quando a unidade política do Egito se firmou, durante a III dinastia (c. 2649 a 2575 a.C.) e a dinastia seguinte (c. 2575 a 2465 a.C.), a estabilidade foi alcançada com a ajuda de um novo dogma segundo o qual o rei era considerado sobre-humano, verdadeiro deus a reinar sobre os homens. Ao que tudo indica, esse foi um dogma elaborado no decorrer das primeiras dinastias visando consolidar um único poder sobre os territórios do norte e do sul. Acredita-se que essa idéia dogmática já fincara suas raízes no passado pré-histórico e que estivera presente por muito tempo como conceito vagamente formulado. Usando tal conceito e detalhando sua aplicação, as primeiras dinastias obtiveram sua formal aceitação e sancionaram um governo emergente. Poder-se-ia dizer escreveu A. Abu Bakr, ex-professor da Universidade do Cairo que a partir da III dinastia o chefe do Estado não era um egípcio do norte ou do sul, mas um deus. Como tal, acreditava-se que o espírito de Hórus nele penetrava quando era coroado e com ele permanecia para guiá-lo nas sendas da deusa Maat, ou seja, nos caminhos da verdade. Após sua morte o faraó residiria junto com os demais deuses e se identificaria tanto com o deus-Sol (Hórus ou Rá) quanto com Osíris e, então, poderia guiar seus sucessores. A tradição também atesta, várias vezes, que houve dinastias de deuses que reinaram como faraós nos primeiros tempos e que o prolongamento histórico dessa situação foi o surgimento dos reis terrestres, herdeiros divinos estabelecidos e protegidos pelas divindades. A maior delas, Hórus, se fazia então presente encarnado no faraó. Dentro desse enfoque, afirma o egiptólogo americano John A. Wilson, o pequeno faraó que se sentava no trono do Egito não era um ser humano e transitório, mas o mesmo "bom deus" que havia sido desde o princípio e que seria eternamente.
De acordo com essa dogmática teoria, o faraó era o responsável por todas as atividades do país. E era, ainda, o sumo sacerdote de todos os deuses, devendo servir-lhes, diariamente, em todos os templos. Sendo fisicamente impossível realizar todas as tarefas a ele conferidas, nomeava representantes que as executavam: ministros, funcionários provinciais, generais, sacerdotes, etc. Ainda em teoria, seu poder era absoluto. Na prática, esclarece Abu Bakr, ele era a personificação de crenças e práticas muito antigas que se desenvolveram progressivamente com o passar dos anos. Na realidade, a vida dos reis era tão codificada que estes não podiam passear ou banhar-se sem submeter-se ao cerimonial estabelecido para cada um desses atos, regulado por ritos e obrigações.
No que se refere às obrigações religiosas, chegou-se a um ponto tal que o rei passou a ser visto como o oficiante supremo dos ritos, ou mesmo o único sacerdote. Só ele tinha o direito legítimo de realizar o culto e foi por isso que, no início do Império Médio (c. 2040 a.C.), recebeu o título de Senhor do Ritual. Os sacerdotes espalhados por todos os templos egípcios agiam simplesmente como representantes do rei e dele recebiam suas missões. Quer se tratasse do culto diário ou daqueles dos dias festivos, os atos rituais como as oferendas, as procissões, etc., realizados nos inumeráreis santuários do país, tinham por única função a manutenção da ordem universal, que a deusa Maat simbolizava.
Como, talvez, o simples fato de sentar-se ao trono não fosse suficiente para explicar a natureza divina do rei, lendas foram sendo criadas. Uma delas relata como os primeiros três faraós da V dinastia (c. 2465 a 2323 a.C.) nasceram da esposa de um mero sacerdote, concebidos pelo próprio Rá, o deus-Sol. Essa ficção sobre o nascimento do rei se manteve ao longo de toda a história do antigo Egito e em vários templos as paredes exibem esse casamento divino. O deus-Sol toma a forma do faraó e insufla na rainha principal o sopro divino mantendo o símbolo da vida junto de suas narinas e como resultado de tal união nasce o herdeiro do trono. A mais célebre versão desse mito está representada nas paredes do templo funerário da rainha Hatshepsut (c. 1473 a 1458 a.C.), da XVIII dinastia (c. 1550 a 1307 a.C.). Até os nomes dos faraós são alterados em função dessas crenças. Antes da V dinastia os nomes dos faraós como, por exemplo, Djoser, Snefru, Khufu, não incluíam o nome do deus-Sol. A partir da V dinastia tornou-se comum que os reis tivessem nomes relacionados a Rá: Sahure, Neferirkare, Neuserre, etc. Foi também nessa época que a relação filial do faraó com o deus-Sol foi reafirmada com a inclusão no nome faraônico do título de filho de Rá agregado ao nome pessoal do rei, aquele que ele recebia ao nascer. Assim se expressava clara e enfaticamente escreveu John A. Wilson que o faraó havia nascido como filho físico de Rá, conferindo-lhe desse modo direito legítimo de reinar no Egito.
A coroação, por sua vez, acreditava-se, embora terrenamente conduzida por cortesãos responsáveis pelas insígnias reais, ocorria no céu e era executada pelos deuses. Também isso é mostrado em muitos templos. O faraó Tutmósis III (c. 1479 a 1425 a.C.), por exemplo, declarou que foi Amon de Tebas que o reconheceu como seu filho quando ele, ainda menino, servia no templo de Karnak. Em consequência disso, ele alçou vôo como um falcão divino até o céu e foi coroado pelo deus-Sol. De fato o que aconteceu foi que seu pai terreno, Tutmósis II (c. 1492 a 1479 a.C.), colocou sobre sua cabeça a coroa de co-regente no santuário do templo. A coroação do rei ocorria, no início da inundação, em uma época anunciada pelo surgimento de um brilhante estrela: Sirius. Esse era um momento auspicioso para que, concomitantemente, um novo faraó e um novo Egito emergissem da antiga terra submersa nas águas caóticas da inundação.
Como a função síntese do faraó era a de manter a ordem universal, o advento de cada rei era encarado como uma recriação do velho universo dentro dos padrões primevos, os quais haviam sido mantidos intactos desde os tempos em que os deuses governavam a terra, mas que com a morte do rei precedente estavam sendo engolfados pelo caos. A coroação do soberano tomada por todos, pelo menos fictíciamente, como dia de Ano Novo do ano civil em curso, produzia a vitória sobre o caos. De novo acontecia a reunião das Duas Terras e a ordem se restabelecia. Foi esse idéia que fêz com que o fundador da XII dinastia, Amenemhet I (1991 a 1962 a.C.), se intitulasse Aquele que renova o nascimento, ou seja, a criação do universo. No dia da coroação, um filho e encarnação dos deuses ascendia ao trono de seus ancestrais e ao morrer e ser assimilado a Osíris, o deus dos mortos, seu filho reinaria em seu lugar. Dessa maneira, o Egito estaria eternamente sob o comando benéfico de um deus. E não se tratava apenas de um soberano para o Egito, mas para todo o trajeto  percorrido pelo disco solar. Na verdade as nações vizinhas reconheciam que um governante divino de um país tão rico, tão unificado e tão poderoso quanto o Egito era um verdadeiro deus. Quando o faraó ascendia ao trono, elas lhe enviavam riquíssimos presentes e pediam suas bençãos. Nessa pintura mural, por exemplo, do túmulo de Sobek-hotpe, vemos uma delegação síria trazendo ricos presentes para o faraó na sua coroação. Os líderes, com roupas ricamente ornamentadas, caem ao chão e cheiram a terra, antes que o novo rei-deus suba ao trono, para rogar suas bençãos. Seus presentes são vasos de ouro e prata, um recipiente de marfim cheio de precioso óleo e uma vasilha em forma de cabeça de águia de desenho micênico. Cenas como esta também podiam mostrar contingentes da Núbia e ocasionalmente das Ilhas do Grande Verde, ou seja, do Mediterrâneo. percorrido pelo disco solar. Na verdade as nações vizinhas reconheciam que um governante divino de um país tão rico, tão unificado e tão poderoso quanto o Egito era um verdadeiro deus. Quando o faraó ascendia ao trono, elas lhe enviavam riquíssimos presentes e pediam suas bençãos. Nessa pintura mural, por exemplo, do túmulo de Sobek-hotpe, vemos uma delegação síria trazendo ricos presentes para o faraó na sua coroação. Os líderes, com roupas ricamente ornamentadas, caem ao chão e cheiram a terra, antes que o novo rei-deus suba ao trono, para rogar suas bençãos. Seus presentes são vasos de ouro e prata, um recipiente de marfim cheio de precioso óleo e uma vasilha em forma de cabeça de águia de desenho micênico. Cenas como esta também podiam mostrar contingentes da Núbia e ocasionalmente das Ilhas do Grande Verde, ou seja, do Mediterrâneo.
É óbvio que interessava ao faraó como pessoa fazer crer que ele possuia o apoio dos deuses, pois desta maneira ninguém poderia depô-lo sob pena de incorrer na ira divina. Apenas se ele perdesse o favor dos deuses, caso em que não mais seria divino, poderia, então, ser deposto. Sendo assim, ele mesmo proclamava que era um Hórus salienta John A. Wilson , um deus dos espaços remotos, do céu, como um falcão. Ele mesmo proclamava que era "as Duas Damas"; ou seja, que sua natureza incorporava as essências das duas deusas que dominavam respectivamente no Alto e no Baixo Egito. Essas duas coisas desvinculavam-no de qualquer lugar em particular da terra egípcia e, ao mesmo tempo, enraizavam-no nas duas regiões do país. Finalmente, com a V dinastia, se declarou filho divino do deus-Sol Rá, o deus supremo.
A aceitação pelo povo egípcio do dogma da divindade do rei pode ser explicada pela sua própria psicologia. É ainda John A. Wilson que nos esclarece que eles não traçavam limites intransponíveis entre os diferentes estados do ser: humano e animal, vivo e morto, humano e divino. Eles não viam diferenças essenciais nas substâncias dos diversos componentes do universo. Os vários fenômenos existenciais tangíveis e visíveis só eram diferentes na superfície mas, na essência, eram da mesma substância e todos combinados em um grande espectro e mesclados sem limites precisos. Os egípcios não estabeleciam categorias independentes para fenômenos diferentes e passavam comodamente do humano ao divino e aceitavam o dogma de que o faraó, que vivia entre os homens como se fosse de carne e sangue mortais, na realidade era um deus que lhes dava a graça de residir na terra para governar o Egito. Portanto, podemos acreditar que o dogma da realeza divina era algo que os egípcios aceitavam de forma simples e natural.
O faraó não só era um rei-deus e os egípcios acreditavam nisso , como também era responsável por manter equilibrada a balança da deusa Maat, divindade incumbida de manter a ordem e evitar o caos, o qual estava sempre aguardando uma oportunidade para engolfar o mundo. Enquanto o rei e seus súditos honrassem os deuses e obedecessem as leis decretadas pelas divindades, a balança seria mantida em equilíbrio e tudo correria bem. Se o faraó falhasse, todo o mundo sofreria e cairia em um inimaginável estado de anarquia.
Ninguém gosta de ser comandado por um dirigente fraco e, assim, gradualmente, a idéia da realeza divina foi se fortalecendo. Todos os egípcios aceitaram como verdadeira a afirmativa de que a força intelectual do rei vinha do suporte dos deuses e que enquanto esse respaldo fosse mantido nada poderia afetar o país. Uma vez que isso se perdesse, entretanto, o reino cairia em tumulto até que um novo rei forte, que tivesse o apoio divino, assumisse o trono. A importância disso foi reconhecida por todos os faraós atι a época romana e cada novo rei perpetuou o mito da realeza divina como meio de legitimar seu direito ao trono. Portanto, esse conceito da divindade do rei foi de fundamental importância para a continuidade da realeza e a manutenção da ordem civil no Egito. Os sacerdotes tiveram importante papel nesse processo. A eles interessava mais dar suporte ao rei, o qual, em contrapartida, lhes dava suporte também, do que assumir a responsabilidade e serem acusados de não estarem agradando aos deuses quando as coisas eventualmente saíssem erradas.
Em que pese tudo o que vimos até aqui, não existia um culto ao rei vivo comparável ao culto aos deuses, a não ser os diversos atos de culto com os quais eram honradas as estátuas do monarca. Elas eram produzidas por ordem do soberano por razões propagandísticas e colocadas em pontos estratégicos de grande movimentação popular como, por exemplo, portas de templos ou postos de fronteira. Assim elas poderiam ser cultuadas pela devoção do povo em geral. No reinado de Ramsés II (c. 1290 a 1224 a.C.) o papel de mediadora que a estátua desempenhava entre os fiéis e o rei-deus ficou patenteado de forma bastante clara. Dessa época foram conservadas inumeráveis estelas nas quais estão registrados pedidos de ajuda na solução de problemas, dirigidos às estátuas colossais do faraó colocadas diante de sua residência no delta do Nilo.
Se deuses eram em vida, mais deuses seriam os faraós após a morte. Assim como governava enquanto vivo, o rei morto também governava no mundo subterrâneo, a maior das cidades como o chamavam os egípcios, mas agora mantendo um outro tipo de relação com o deus do além-túmulo, Osíris. O faraó torna-se Osíris e passa a ser, daí em diante, o mestre do mundo dos mortos. Entretanto, os Textos das Pirâmides nos dão outra imagem do além-túmulo, centrada no deus solar Rá e em sua viagem na barca celestial. O rei defunto, que segundo uma velha doutrina voava para o céu após a morte, passava a acompanhar a barca solar e inundava de vida e de luz o mundo dos mortos, como Rá o fazia em sua viagem noturna. Essas duas concepções, aparentemente contraditórias, eram, para os egípcios, como em vários outros casos, estados complementares de uma mesma situação.
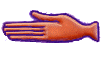 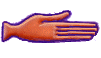
|

